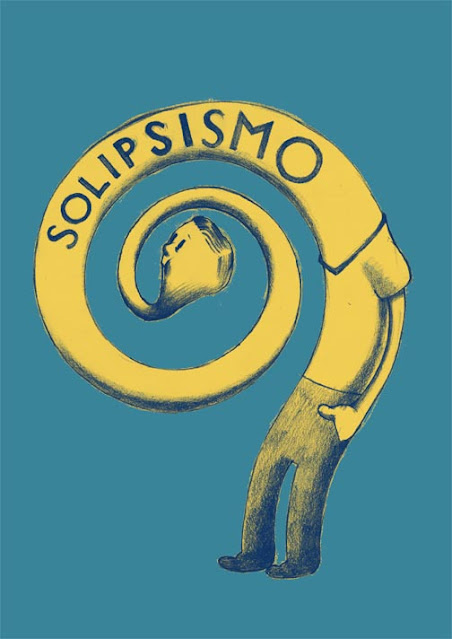Eis um pequeno excerto do livro Novas Janelas Para a Filosofia, publicado no final do passado mês de Maio. O excerto é do início do capítulo sobre filosofia da ciência, mais precisamente sobre o problema da demarcação.
Distinguir a ciência do que não é ciência tem sido bastante mais difícil do que possa parecer. É um problema que muitos consideram da máxima importância. Karl Popper (1902-1994) classificou-o como o mais importante problema da filosofia da ciência, procurando apresentar uma solução para ele, como veremos. O problema tem, de resto, adquirido uma crescente importância prática, na medida em que se trata também de distinguir a ciência de um tipo particular de não-ciência: a pseudociência. A sua particularidade, como o prefixo pseudo indica, é a de reivindicar ilegitimamente para si o estatuto de ciência genuína. Claro que tal reivindicação seria inútil se não houvesse semelhança alguma entre a ciência e a pseudociência, o que é visto como uma ameaça à própria ciência, tal como a moeda falsa é uma séria ameaça à moeda verdadeira, minando a confiabilidade desta. Como se adivinha, isso acarreta vários outros perigos de cariz social e político.Por exemplo, há decisões políticas que precisam de ser baseadas em informação e fundamentadas em explicações científicas, em vez de meras especulações e aparências, pelo que é importante saber quem está em condições de o fazer: em que investigações se deve gastar o dinheiro de todos, o que ensinar nas escolas ou que medidas de saúde devem ser adoptadas numa pandemia? Ao distinguir as fontes de conhecimento mais fiáveis das suas imitações, a demarcação entre ciência e pseudociência permite orientar decisões, tanto na vida pública como na privada: devo consultar um médico ou é melhor ir antes ao homeopata?Não tem, no entanto, sido fácil encontrar um critério de demarcação satisfatório. E para isso contribui também o facto de o universo da ciência ser bastante heterogéneo, abrangendo as ciências naturais, as ciências sociais e humanas, as ciências formais, e ainda as novas ciências que vão surgindo, como as ciências computacionais, a sociobiologia, a cibernética, as ciências da Terra e do ambiente, as ciências do trabalho, da comunicação, da educação, etc. E há também quem considere a psicanálise e o marxismo científicos. Em contrapartida, há áreas que já foram amplamente consideradas científicas e que deixaram de o ser, como a astrologia (praticada por Ptolomeu e Kepler), a alquimia (praticada por Paracelso) e a frenologia (fundada pelo médico alemão Franz Joseph Gall). De resto, nenhuma lista de pseudociências é consensual. Exemplos como o criacionismo, o terraplanismo, a homeopatia ou a quirologia são relativamente pacíficos, mas há quem discuta seriamente se a parapsicologia ou a acupunctura merecem ser qualificadas de científicas.Se for possível apresentar um critério satisfatório de demarcação entre o que é e o que não é ciência, não só muitos dos perigos representados pelas pseudociências poderão ser mais facilmente enfrentados, como ficaremos com uma maior compreensão da natureza de uma das mais relevantes actividades humanas.
(pp. 249-250)