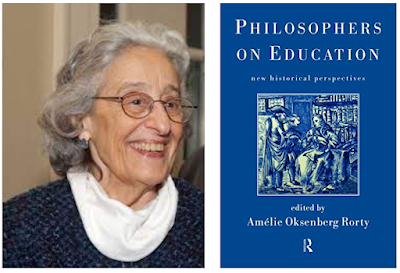Os tempos áureos do mellotron, um instrumento de tecla inventado em Inglaterra no início da década de 60 do século passado, form relativamente breves. Mas também foram marcantes, sobretudo após Paul McCartney usar, contra a opinião do produtor George Martin, esse novo instrumento em Strawberry Fields Forever, uma canção escrita por Lennon. Depois disso, foram os Rolling Stones, David Bowie, Elton John e sobretudo os Moody Blues, King Crimson, Genesis, Tangerine Dream, e até os Led Zeppelin e os Black Sabbath a recorrer ao som envolvente e melancólico do mellotron, conferindo uma espacialidade sonora e um toque de lirismo às suas músicas.
O mellotron é um teclado com uma espécie de mini-orquestra escondida. O som que sai quando se pressionam as suas teclas resulta, na verdade, da leitura de fitas magnéticas pré-gravadas. Algo parecido a pressionar a tecla de um leitor de cassetes, em que cada fita tinha inicialmente a duração de apenas 8 segundos, tendo de se pressionar novamente para voltar ao início. Cada fita tinha o som pré-gravado de certos timbres (instrumentos), correspondente à nota de cada tecla (altura). Inicialmente, os sons pré-gravados podiam ser de quatro timbres diferentes: flautas, cordas (violinos), vozes (femininas ou masculinas) e também sopros metálicos. O teclista tinha de selecionar um dos timbres, mas alguns instrumentos tinham dois teclados lado a lado, podendo usar dois timbres ao mesmo tempo. Era como que uma espécie de pequena orquestra em forma de teclado. Mas, dado que o som produzido não tem qualquer variação de altura, por mais pequena que seja, também não se ouve aquele efeito de vibrato tão característico das orquestras. Daí produzir um som único e facilmente reconhecível.

Em Strawberry Fields Forever, McCartney opta por aquele característico som de flautas, tal como, de resto, os Led Zeppelin virão a usar também em Stairway to Heaven, com John Paul Jones a tocar mellotron. Por sua vez, The Moody Blues, King Crimson e outros grupos de rock progressivo optam mais frequentemente pelo timbre das cordas, especialmente do violino.
Para se ter uma ideia do que o uso do mellotron pode fazer por uma canção, veja-se a atípica e calma Changes, dos Black Sabbath, em que há apenas piano, voz e mellotron. Sem o mellotron, certamente esta belíssima canção ficaria demasiado repetitiva e sem envolvência.
O mellotron é um instrumento tecnicamente delicado e de difícil manutenção, cujo transporte causa frequentemente problemas mecânicos. Daí que não seja aconselhável andar com ele de um lado para o outro, não se vendo muito em concertos ao vivo. Além disso, os sintetizadores portáteis começaram a incluir, principalmente a partir dos anos 1980, a emulação de uma enorme variedade de sons, incluindo cordas, vozes, madeiras e metais, acabando por substituir o mellotron. No entanto, músicos como os Oasis, Radiohead, Muse e Opeth continuaram a incluir em algumas das suas canções o som vintage do mellotron.
Uma curiosidade. José Cid foi dos poucos músicos portugueses em que o mellotron teve uma presença importante, nomeadamente no seu álbum 10 000 Anos Depois Entre Vénus e Marte.
Eis uma lista de audição com 20 músicas em que se usa o mellotron.