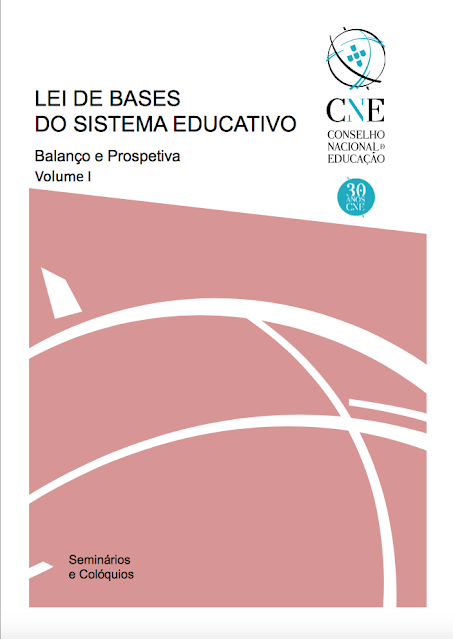Esta é a minha lista das vinte melhores canções dos Beatles. O que não falta por aí são listas idênticas a esta: das melhores vinte, melhores dez, melhores cinquenta. Há até quem, como neste caso, ordene as 213 canções originais dos Beatles da menos boa até à melhor, acrescentando a devida justificação. Devo dizer que só nove das vinte melhores dessa lista constam da minha. Contudo, coincidimos nas três melhores, embora a ordem seja ligeiramente diferente.
A verdade é que não tenho grandes dúvidas em relação às cinco melhores, seja por que ordem for. Aqui fica a lista comentada, com comentários um pouco mais alargados apenas para essas cinco.
1. A Day In The Life (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967)
Esta canção consegue reunir o melhor de John Lennon com o melhor de Paul McCartney. Surge, de resto, da reunião de duas canções completamente diferentes de cada um deles: começa com a parte de Lennon e passa para a de McCartney, com uma transição instrumental de pura liberdade orquestral. É uma canção invulgar a todos os títulos: acordes de guitarra ao fundo que parecem não avançar, o piano como que a dar uma ordem de partida e que imediatamente se acomoda para que a voz moderadamente plangente de Lennon, ocasionalmente pontuada pela batida aparentemente irregular da bateria de Ringo Starr, comente as notícias do jornal do dia — alguém ganhou a lotaria, um jovem morreu num acidente de automóvel. A parte orquestral que se segue é uma verdadeira vertigem sonora ascendente que subitamente se acalma e passa para um despertar algo apressado, cantado agora por McCartney. A vertigem sonora orquestral regressa no final e conclui de forma improvável: um verdadeiro ponto final sonoro, com vários pianos a dar em uníssono um único acorde que se prolonga por muito tempo sem se desvanecer. Quem pensava que nada mais havia para inventar dentro dos cânones melódicos tradicionais, devia ouvir isto.
2. Penny Lane (single, 1967)
Parece que esta obra-prima composta por McCartney foi a resposta a Strawberry Fields Forever, outra obra-prima, composta pouco antes por John Lennon. Tal como a canção de Lennon, também Penny Lane evoca recordações da infância em Liverpool. Penny Lane é o nome de uma rua que fica perto da zona onde McCartney morava e por onde passava frequentemente. A letra consiste nas suas memórias de infância de quando cruzava essa rua: coisas banais, mas com os sons e as cores (Penny Lane is in my ears and in my eyes) da candura infantil que simplesmente se satisfaz com a felicidade de um céu azul (the blue suburban skies). A canção começa logo por surpreender com a sua melodia descendente, empurrada pelo baixo bem delineado e saltitante de McCartney. Outro aspecto que não é muito vulgar na música popular prende-se com o uso da bitonalidade, saltando de um tom para o outro ao longo da canção. Não menos surpreendente é o arranjo instrumental, em que se destaca a parte dos metais (trompetes) e um inesperado piccolo. Por vezes penso ser esta a melhor canção do Beatles.

The blue suburban skies,
da ponte sobre o caminho de ferro, em Penny Lane.
3. Strawberry Fields Forever (single, 1967)
Mais uma brilhante canção, que também começa de forma cativantemente estranha: uma primeira frase cantada de forma assertiva e imediatamente quebrada por uma espécie de anti-clímax melódico. E também ela é sobre a felicidade da infância de Lennon. Strawberry Fields é o nome do sítio, ali mesmo ao pé de casa, onde a sua tia o levava no Verão para brincar livre e despreocupadamente com outras crianças no pequeno bosque que lá havia: quem me dera ser sempre criança, é o que Lennon exprime com o refrão Strawberry Fields Forever. A sensação de algo guardado na memória de infância é dada logo a abrir com os aconchegantes acordes de mellotron, um instrumento inventado por essa altura, tocado por McCartney. Este era, aliás, um dos maiores segredos do sucesso musical dos Beatles: as canções de cada um dos dois principais autores eram sempre enriquecidas com as ideias do outro. Por isso se justifica plenamente atribuir a autoria à dupla Lennon e McCartney, independentemente de quem é o autor da ideia original. Tanto Penny Lane como Strawberry Fields Forever foram gravadas para o álbum Sgt. Pepper's, mas acabaram por sair à parte pouco antes de sair aquela obra-prima.

Strawberry Fields, em Liverpool
4. Eleonor Rigby (Revolver, 1966)
Outra canção irresistível, da autoria de McCartney, toda ela acompanhada apenas por uma orquestra de câmara, mas com o ritmo de uma genuína canção pop. A letra é sobre as pessoas solitárias e as pequenas coisas com que tentam preencher o seu quotidiano. A composição começa de forma pouco habitual, com o refrão. A veemência do refrão reforça o que se pede com as palavras (Ah, look at all the lonely people!) e contrasta melodicamente com a parte descritiva da letra. Por sua vez, o contraponto é breve e astuciosamente usado para relembrar o convite inicial contido no refrão. Tudo nesta canção funciona de forma perfeita e expressiva. Só os Beatles foram capazes de fazer uma canção assim.
5. You Never Give Your Money - Sun King - Mean Mustard - Polythene Pam - She Came In Through The Bathroom Window - Golden Slumbers - Carry That Weight - The End (Abbey Road, 1969)
Em rigor, não temos aqui apenas uma canção, mas uma miscelânea de fragmentos de canções diferentes, aparentemente ligados entre si e correspondendo a quase todo o lado B de Abbey Road. Este foi o último álbum gravado pelos Beatles, apesar de ter sido lançado antes de Let It Be, gravado anteriormente. Lennon, autor de metade das canções — sendo a outra parte de McCartney — explicou que se tratou de aproveitar antigos esboços de canções abandonadas por ambos e que decidiram reunir aqui. A verdade é que, apesar das diferenças melódicas, e não só, elas ouvem-se como se fossem capítulos de uma só peça: como se tratasse de diferentes andamentos de uma sinfonia rock ou das árias de uma espécie de ópera rock sem libreto. O resultado é simplesmente brilhante: melodias viciantes e imprevisíveis, como Golden Slumbers; harmonias vocais cativantes como em You Never Give Me Your Money ou Sun King, com um toque de Beach Boys; guitarras incisivas como em She Came In Through The Bathroom Window e The End; hinos imparáveis como Carry That Weight; orquestrações brilhantes como em Carry That Weight e The End. As letras são quase todas pequenos flashes de situações banais e, por vezes, roçam mesmo o non sense, especialmente a mistura de palavras de diferentes línguas latinas em Sun King. Mas tudo funciona de forma irresistível, numa variedade melódica, vocal, harmónica e instrumental que nunca cansa.
6. She Said She Said (Revolver, 1966)
Os Beatles num registo mais puramente rock, com guitarras firmes, ácidas e enleantes. E a voz ligeiramente rugosa de Lennon subtilmente iluminada pelas harmonias vocais em que repousa.
7. She's Leaving Home (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967)
Uma pérola vocal, harmónica e orquestral. É sobre a uma jovem provinciana que sai de casa dos pais contrariados, em busca sabe-se lá bem de quê. Uma das coisas que mais se destaca nesta canção é o uso de duas vozes em contraponto, apresentando cada uma delas uma perspectiva diferente: a dos pais consternados e a da filha em busca de liberdade.
8. In My Life (Rubber Soul, 1965)
Uma das canções mais simples e mais belas dos Beatles. Tudo vem a propósito, incluindo o solo discreto de guitarra eléctrica no início, o belo solo bachiano no piano a meio, e o falsete final. De uma simplicidade tocante.
9. If I Feel (A Hard Day's Night, 1964)
Outra melodia tocante da primeira fase dos Beatles, composta e cantada por Lennon, a que se acrescentam belíssimas harmonias vocais.
10. Yesterday (Help!, 1965)
Diz-se que esta é só a canção com mais versões gravadas em toda a história da indústria discográfica. Não é fácil perceber porquê. Como confessou McCartney, quando a cantou pela primeira vez na guitarra, parecia que estava a cantar algo que já existia por aí desde sempre e que nem sequer tinha sido ele a compô-la. Mas foi. É uma canção melodicamente complexa, com muitos acordes e uma orquestração que acentua ainda mais a sua força melódica.
11. Here, There and Everywhere (Revolver, 1966)
Se a anterior é uma melodia complexa, esta é bem singela. Mas tem uma beleza desarmante e um sabor agradavelmente nostálgico, dado sobretudo pelos coros.
12. Here Comes The Sun (Abbey Road, 1969)
Nem só de Lennon e McCartney vivem os Beatles, como o prova esta sedutora canção, escrita e cantada por George Harrison. O que mais me agrada nela é a toada elegante e optimista como que a empurrar-nos suave mas decididamente. Gosto particularmente do toque da tarola de Ringo Starr.
13. Tomorrow Never Knows (Revolver, 1966)
Se em Yesterday abundam os acordes, nos 3 minutos de Tomorrow Never Knows não há mais do que um, e só um, acorde. Esta canção ilustra bem a ousadia e a liberdade criativa dos Beatles, que nunca se limitam a seguir a mesma fórmula, ao contrário do que infelizmente acontece com grande parte dos músicos rock. O mais interessante nesta canção não é só o uso de recursos tecnológicos inspirados nas experiências vanguardistas da música erudita da altura, como a fita magnética e o looping, mas o seu efeito melódico e o modo como tudo se conjuga de forma estranha mas harmónica.
14. Girl (Rubber Soul, 1965)
Esta é uma das mais bonitas baladas dos Beatles. Lennon canta nostalgicamente o seu amor definitivo pela rapariga que ainda nem sequer conhece (ele próprio disse que a rapariga era Yoko, a qual veio a conhecer anos mais tarde). A melodia, de tão singelamente bela, quase dispensa acompanhamento instrumental. E este restringe-se ao mínimo, como tinha mesmo de ser.
15. The Long and Winding Road (Let It Be, 1970)
Mais uma belíssima canção de McCartney, simultaneamente nostálgica e esperançosa. De facto, ela soa a despedida — a despedida dos Beatles, tanto pela melodia como — mesmo não parecendo à primeira vista — pela letra. Destacam-se os coros distantes e quase etéreos a dar uma aparentemente exagerada grandiosidade à melodia além dos arranjos orquestrais clássicos e envolventes. É certo que tudo isso foi introduzido pela mão solitária do produtor Phil Spector e que muito irritou Paul. Mas, mesmo contra o veredicto de Paul, isso não deixa de mostrar que a música dos Beatles soa bem em todos os registos.
16. While My Guitar Gently Weeps (White Album, 1968)
George Harrison de novo, com outra fantástica canção baseada sobretudo na sua guitarra — e com uma mãozinha de Eric Clapton nos solos instrumentais. A melodia é cantada na voz aparentemente frágil de Harrison, o que lhe dá um toque algo lírico, acentuado por uma batida simultaneamente indolente e acentuada.
17. The Fool On The Hill (Magical Mystery Tour, 1967)
Os méritos desta canção estão longe de reunir consenso, mesmo entre os apreciadores dos Beatles. Mas penso que merece estar entre as melhores por se tratar de um excelente exemplo do lirismo melódico aparentemente despojado de McCartney, conseguindo acentuar esse lirismo com um arranjo orquestral perfeito.
18. Help (Help!, 1965)
Ao usarem magistralmente as segundas vozes e o contraponto, com a sua melodia em forma de fuga, os Beatles mostravam nesta canção como a música rock não tinha de ser apenas constituída por melodias simplórias, envolvidas por instrumentos electrificados.
19. Ticket to Ride (Help!, 1965)
A irresistível malha inicial da famosa Rickenbacker de 12 cordas, aqui tocada por George e a afirmativa entrada da bateria de Ringo, ampliada pelas notas ressoantes do pequeno baixo Hõfner de Paul mostram logo ao que vêm: rock intenso, melodioso e instrumentalmente cativante. Mais uma canção inspirada de Lennon, com importantes contributos instrumentais de todos os outros, em especial de Paul.
20. Within You Without You (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967)
Outra faceta dos Beatles e também o seu lado mais exótico, liderado por George. Não se trata simplesmente de uma curiosidade de inspiração indiana, mas de uma verdadeira canção, com todos os melhores ingredientes que uma boa canção pode ter. E com George a cantar e a tocar sitar, que aprendera a tocar com músicos indianos, entre os quais Ravi Shankar.
Fora desta lista ficam canções memoráveis como Hey Jude, Let It Be, Paperback Writer, Day Tripper, Something, Blackbird, Across the Universe, Lady Madonna, Come Together, All You Need is Love, Revolution, With a Little Help From My Friends, Norwegian Wood, Drive My Car, I Want to Hold Your Hand, All My Loving, And I Love Her, Michelle e tantas outras que teria vontade de incluir. Mas isto são os Beatles, não é qualquer coisa.
A lista das 20 canções acima pode ser ouvida aqui.