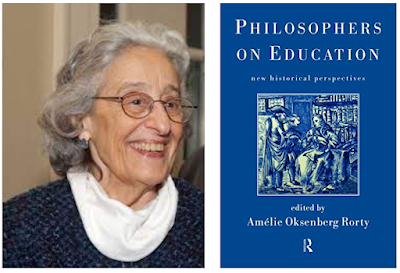A minha introdução à tradução portuguesa, para a editora Gradiva, de Linguagens da Arte, de Nelson Goodman, pode ser lida aqui.
Deixo apenas um dos parágrafos dessa introdução, para dar uma ideia do que se trata a quem desconhece a obra e o autor.
A ideia central que Goodman persegue em Linguagens da Arte só se torna completamente clara quando chegamos ao capítulo final. O que se pretende mostrar é que as artes são modos de obtenção de conhecimento e que a estética, ou filosofia da arte, tem como finalidade explicar como se obtém esse conhecimento. A estética é, pois, um ramo da epistemologia, ou teoria do conhecimento. Assim, as obras de arte não se destinam a ser contempladas, fruídas ou adoradas, mas a proporcionar conhecimento das coisas. E compreender uma obra de arte não consiste em apreciá-la, nem em ter experiências estéticas acerca dela, nem em descobrir a sua beleza. Compreender uma obra de arte é interpretá-la correctamente, tal como se faz quando se interpreta uma frase, um mapa, uma afirmação moral, um sinal luminoso ou uma radiografia. As ciências não são melhores nem piores do que as artes no que respeita à aquisição de conhecimento. Artes e ciências têm exactamente a mesma finalidade e a sua eficácia é semelhante, apesar de disporem de recursos diferentes. Todas visam criar ou construir versões de mundos, isto é, formas de organizar as coisas. E esses mundos são viáveis ou não em função daquilo que esperamos deles. É certo que o conhecimento está frequentemente associado à crença verdadeira (o chamado «conhecimento proposicional»), como acontece quando se pensa nas afirmações das ciências. Mas o conhecimento não é exclusivamente uma questão de crenças; a percepção, a detecção de padrões, o reconhecimento e a classificação são também actividades cognitivas. E estas actividades não só afectam as nossas crenças como são, em si, cognitivamente relevantes. Assim, as artes não têm um estatuto cognitivo periférico ou inferior ao que encontramos nas ciências. Esta é, em síntese, a perspectiva cognitivista da arte que Goodman procura sustentar ao longo deste livro.