Não, a fotografia não é uma forma de arte, responde o filósofo da arte Roger Scruton no seu muito discutido artigo «Fotografia e representação», de 1981.
Sim, claro que a fotografia é uma forma de arte, considera o filósofo da arte canadiano Dominic McIver Lopes, em reposta a Scruton, no artigo de 2013 «Agora somos todos artistas» e também no livro Quatro Artes da Fotografia, de 2016.
A questão não é se uma dada imagem fotográfica pode ser uma obra de arte. Ninguém tem dúvidas que pode. É antes a questão da própria natureza da fotografia, mais precisamente se essa natureza permite classificá-la como uma genuína forma de arte.
Apesar de responderem de forma diferente à questão, Scruton e Lopes (e qualquer pessoa sensata) concordam que as duas afirmações seguintes são falsas:
1. Nenhuma fotografia é uma obra de arte.
2. Todas as fotografias são obras de arte.
Ao defender que a fotografia não é, em si, uma forma de arte, Scruton não está a dizer que nenhuma fotografia é uma obra de arte. Claro que há muitas fotografias que são obras de arte, reconhece Scruton, tal como há peças de mobiliário que são obras de arte, apesar de o mobiliário não ser uma forma de arte.
Por sua vez, ao defender que a fotografia é, sim, uma forma de arte, Lopes não está a dizer que todas as fotografias são obras de arte. Claro que há muitas fotografias que não são obras de arte, tal como há pinturas que não são obras de arte, apesar de a pintura ser uma forma de arte.
Uma maneira simplista de descrever as duas perspetivas em confronto é a seguinte: uns consideram que a fotografia é essencialmente um processo de rastreamento mecânico de características do que já está aí, sendo esse processo causal que confere autoridade epistémica às imagens fotográficas, mas que, por isso mesmo, não deixa lugar para a intenção criativa requerida pelas artes; outros, pelo contrário, consideram que a componente mecânica própria da fotografia é apenas uma tecnologia de registo do resultado visível de alguma intenção representacional, resultado esse que está sujeito a interpretação, e em cujas imagens podemos, por isso, encontrar valor estético. Em suma, o que está em causa é se a imagem fotográfica é o resultado de um processo essencialmente não mental ou se, pelo contrário, consiste essencialmente numa representação pessoal que requer uma interpretação subjetiva.
O argumento cético de Scruton segue a primeira das duas linhas de raciocínio acabadas de enunciar. Como também foi referido, Scruton não irá concluir que nenhuma fotografia pode ser arte, mas antes que a fotografia não é, em si mesma, uma forma de arte. Há fotografias que são arte, mas o seu carácter artístico decorre, segundo Scruton, de algo que, de certo modo, não é estritamente fotográfico mas se acrescenta à pura imagem fotográfica A fotografia pura é a imagem fotográfica não manipulada por processos que vão além do mero registo mecânico: por exemplo, manipula-se a imagem fotográfica quando se acrescentam efeitos próprios da pintura ou de outras artes. Quando o fotógrafo recorre a esse tipo de efeitos, a imagem criada pode ter valor artístico, mas deixa de ser uma fotografia pura. Scruton pensa que há apenas duas maneiras de uma imagem fotográfica ter valor artístico ou estético: quando se recorre a efeitos próprios de outras artes, a imagem daí resultante pode ter valor artístico; caso não haja manipulação artística, a fotografia pode, ainda assim, ter conteúdo estético, mas o conteúdo estético de uma fotografia está no objeto em vez de, como nas artes, na própria imagem.
1. Uma fotografia pura é uma imagem cujo conteúdo visível resulta apenas de um processo causal de rastreio de características, rastreio esse que é independente de crenças.
2. Se uma fotografia pura é uma imagem cujo conteúdo visível resulta apenas de um processo causal de rastreio de características que é independente de crenças, então não pode haver qualquer interesse nela enquanto pensamento visualmente expresso.
3. Mas, uma imagem só é uma obra de arte representacional se puder haver interesse nela enquanto pensamento visualmente expresso.
4. Portanto, nenhuma fotografia pura é uma obra de arte representacional.
5. Mas, a fotografia só é uma arte se algumas fotografias puras forem obras de arte representacionais.
6. Logo, a fotografia não é uma arte.
Este argumento assenta em três ideias principais: na fotografia pura há causalidade mecânica em vez de, como nas artes, intenção artística; a fotografia pura limita-se a registar em vez de, como nas artes, representar; sem representação imagética não há interesse estético.
Se este argumento é válido ou não depende de como as premissas forem interpretadas. Lopes considera que o argumento não é válido ou, se for válido, estamos perante uma petição de princípio.
Há anos, a Universidade do Minho deu-me a feliz oportunidade de comentar, ao lado de Lopes, o seu o artigo «Agora somos todos artistas». Concordei com o essencial dos seus argumentos contra Scruton, mas pareceu-me, ainda assim, que Lopes deixou intocado o que penso ser o aspeto mais frágil do argumento de Scruton. Trata-se da noção de representação, que encontramos em 3, 4 e 5, como algo essencialmente intencional, e que julgo ser disputável.
A noção de representação adoptada por Scruton é a tranca que bloqueia as portas da arte à fotografia qua fotografia. Scruton pensa que toda a representação é intencional e, portanto, que a representação imagética é uma expressão de um pensamento incorporado numa forma visual. Dado que a fotografia é essencialmente uma tecnologia de produção mecânica de imagens, as fotografias são registos independentes de crenças, não havendo intencionalidade mas apenas causalidade. Mas parece-me haver um pressuposto errado aqui, a saber, que toda a representação é intencional.
Uma definição comum de representação é: x representa y se e somente se x está em vez de y. Talvez isto não permita dizer, como acreditam alguns filósofos, que os anéis no interior dos troncos de certas árvores representam a sua idade, ou que o ponteiro do velocímetro de um automóvel representa a velocidade a que esse automóvel se desloca. Os anéis e os ponteiros simplesmente indicam em vez de representarem, pois nem os anéis nem os ponteiros estão em vez da idade dos troncos e da velocidade do automóvel, respectivamente. Porém, não deixa de ser razoável dizer que a representação pode ser causalmente determinada, independentemente da intenção: um pintor que queira pintar a Praça do Rossio, em Lisboa e que, por engano ou desconhecimento, monte o seu cavalete na Praça da Figueira, mesmo ao lado, pensando que está a pintar a Praça do Rossio, não está, de facto a fazer uma pintura da Praça do Rossio mas sim da Praça da Figueira. A intenção de representar um lugar não corresponde, neste caso, ao que foi efectivamente representado. O que quero realçar é que talvez a intenção não seja condição necessária nem suficiente da representação imagética ou que, pelo menos, não seja possível descortinar a intenção efetiva na forma percepcionada.
Além disso, também não é implausível que a relação de representação, não sendo simétrica, seja bidireccional. Um exemplo desta bidireccionalidade é o pensamento do fotógrafo de que, dadas as características e o potencial imagético de um certo objeto, este se lhe impõe como algo que merece ser visualmente rastreado, havendo aqui não só intencionalidade (numa direcção que vai do sujeito para o objecto) mas também causalidade (numa direcção que vai do objecto para o sujeito). Assim, o interesse estético da fotografia enquanto fotografia pode resultar do olhar selectivo do fotógrafo (um olhar prospetivo), o qual só o dispositivo mecânico permite registar com acuidade, de modo a que possamos encontrar significados inesperados nas características visuais rastreadas, e de outro modo inacessíveis. Isso nem sempre é conseguido. É por isso que muitas fotografias não são obras de arte nem têm interesse estético.
Outro aspecto problemático do argumento de Scruton, relacionado com o anterior, e a que Lopes também não me pareceu dar suficiente importância, é o modo como Scruton entende a noção de fotografia pura, referida nas duas primeiras premissas. A noção de fotografia pura de Scruton acaba por ser aquela em que o fotógrafo não tem verdadeiro controlo sobre a imagem obtida. Mas, se assim for, penso que Scruton é incapaz de nos dar exemplos claros de fotografias puras, a não ser fotografias tiradas inadvertidamente. Assim, os melhores exemplos de fotografias puras seriam, nesse sentido, fotografias sem fotógrafos. Creio que essa é uma prática fotográfica inexistente.
Lopes acaba por ir mais longe do que seria de esperar na sua réplica a Scruton, ao acrescentar que, graças à fotografia digital, podemos agora ser todos artistas. Claro que podemos, e não só graças à fotografia digital. Podemos sim, mas não somos. Lopes considera que, diferentemente da pintura e da fotografia não digital, a fotografia digital libertou-se das paredes dos museus e das galerias de arte. No entanto, Lopes poderia ter deixado claro que tal não se deve tanto à vulgarização dos equipamentos fotográficos nem à proliferação de galerias virtuais. Bem vistas as coisas, trata-se antes de uma mutação ontológica operada pela fotografia não digital: as fotografias tradicionais, diferentemente das fotografias digitais, são o tipo de objecto que precisa, como as pinturas, das paredes dos museus e galerias para serem exibidas. Claro que as pinturas podem ser fotografadas e exibidas num ecrã de computador. Mas uma pintura reproduzida num ecrã de computador não é uma pintura. É apenas uma fotografia de uma pintura. Assim, as pinturas precisam, como as fotografias tradicionais, das paredes de museus e galerias para serem exibidas e, portanto, de alguém que decida quais delas merecem um lugar nessas paredes exíguas. Em contrapartida, no caso da fotografia digital, basta ter um banal telemóvel, um software de edição de imagem no nosso computador e uma conta no Flickr, por exemplo, para que tenhamos tudo o que é necessário para ser um artista, sem necessidade de curadores, nem de especialistas, nem de aparato institucional algum.
Podemos agora ser todos artistas, sim. E, contudo, só alguns o são.






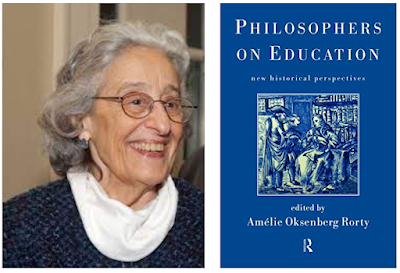


_(cropped).jpg)





