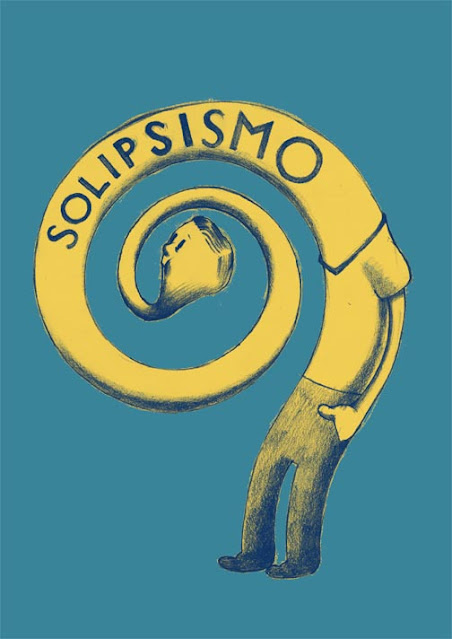A XIII Conferência de Filosofia da Teixeira Gomes foi um sucesso, tanto pelo interesse despertado no público, que encheu o auditório, como pela qualidade da comunicação proferida pelo conferencista Pedro Galvão, da Universidade de Lisboa. Pedro Galvão, especialista em ética, é organizador de vários livros na área da ética prática (a que também se chama «ética aplicada»), entre os quais se conta precisamente Os Animais têm Direitos? Perspectivas e Argumentos (Dinalivro, 2010). Assim, a qualidade e a clareza da comunicação proferida não foi inteiramente surpreendente.
A primeira coisa a sublinhar é que se tratou de uma conferência de filosofia e não de uma sessão de campanha a favor ou contra os direitos dos animais. Assim, o conferencista procurou apresentar as principais perspectivas acerca dos direitos dos animais não humanos, fossem a favor ou contra, e os principais argumentos em que tais perspectivas se apoiam, sem deixar de fazer a sua própria avaliação crítica e fundamentada de cada uma dessas perspectivas: a perspectiva tradicional (Kant e outros), a perspectiva utilitarista clássica (Bentham, Singer e outros), a perspectiva deontologista (Tom Regan) e, finalmente, a perspectiva do utilitarismo de regras (defendida pelo próprio conferencista).
Pedro Galvão começou por fazer três advertências de carácter teórico.
A primeira é que, ao falar de direitos, o que estava em causa não eram os direitos legais, mas os direitos morais. Trata-se de coisas muito diferentes, pois para sabermos se os animais têm, num dado país, direitos legais, e quais são esses direitos, é apenas uma questão de consultar a legislação desse país sobre a matéria. Não há aí lugar a qualquer discussão filosófica. Mas se alguém tiver, por exemplo, o direito moral à liberdade, então nem nos países onde a lei não reconhece o direito à liberdade das pessoas (nos países com regimes autoritários e ditatoriais) esse direito se extingue: mesmo que não tenham legalmente o direito à liberdade podem ter o direito moral à liberdade.
A segunda é que, ao falar de animais não humanos, não se está a pensar em todos os animais, mas apenas em alguns. A diversidade de espécies animais é tão grande e as suas características tão diferentes, que não seria correcto incluí-las todas. Assim, não se incluem animais como, por exemplo, os insectos e a maior parte dos peixes. Do que se está a falar é sobretudo de mamíferos e aves, cuja complexidade neurológica e cerebral permite afirmar, sem grandes dúvidas, que têm alguma forma de senciência (capacidade de sofrer e de ter prazer) e algum grau de consciência de si. Isto é crucial, pois o facto de serem sencientes e autoconscientes (características que se podem ter em graus diferentes), permite concluir que esses animais, ao contrário dos outros, têm interesses, nomeadamente o interesse de não sofrer.
A terceira é que a expressão «ter direitos» é ambígua, podendo ser interpretada de duas maneiras diferentes, uma num sentido mais amplo e outra num sentido mais estrito. Num sentido amplo, dizer que um indivíduo ou espécie têm direitos significa que esse indivíduo ou espécie têm estatuto moral -- que são dignos de consideração moral. Num sentido mais estrito, dizer que um indivíduo ou espécie têm direitos, significa que esse indivíduo ou espécie têm direitos deontológicos, isto é, direitos invioláveis. Sendo assim, haveria duas questões que precisavam de resposta: se, por um lado, os animais não humanos têm estatuto moral e se, por outro lado, eles têm direitos deontológicos. Quem pensar que os animais têm direitos deontológicos, aceita implicitamente que eles têm estatuto moral, mas o inverso não acontece: podemos achar que eles têm estatuto moral e não concordar que têm direitos deontológicos. Assim, defender que os animais têm direitos deontológicos é defender uma tese mais forte do que a tese de que eles têm apenas estatuto moral. Portanto, dizer que têm estatuto moral é defender que os seus interesses devem ser considerados, mas não que sejam necessariamente satisfeitos. Estas questões colocam-se também acerca dos seres humanos, pelo que é esclarecedor pensar nisso também.
Afinadas estas questões prévias e feitas as distinções conceptuais necessárias, Pedro Galvão partiu então para a caracterização e discussão de quatro das mais importantes perspectivas sobre os direitos dos animais, sem deixar de referir que há outras que mereceriam atenção.
A primeira, a que deu o nome de «tradicional», não reconhece estatuto moral aos animais não humanos. A ideia é que os animais existem com a finalidade de servir os seres humanos e de ser por eles dominados, como alegadamente refere a Bíblia, mas também Aristóteles e Tomás de Aquino, entre outros. Esta ideia, apesar de ser amplamente partilhada, não deixa de ser estranha, como sublinhou Pedro Galvão: como podem os animais estar ao serviço dos seres humanos se no longo percurso da evolução das espécies os seres humanos surgiram muitíssimo depois de milhares de outras espécies animais, muitas delas entretanto extintas? Será que, por exemplo, os dinossauros foram criados com a finalidade de servirem os seres humanos e de serem dominados por estes? Esta visão antropocêntrica tem, contudo, uma versão menos radical, defendida pelo filósofo iluminista alemão Immanuel Kant. Este filósofo afirmava que o princípio fundamental da moral se baseia na razão, a qual nos manda tratar os nossos semelhantes como fins e nunca como meios, impedindo-nos de os instrumentalizar e de, assim, ferir a sua humanidade. Tratar os nossos semelhantes, e a nós próprios, como fins equivale a respeitar a autonomia de cada ser humano, considerando que as pessoas têm direitos invioláveis. Mas não poderemos ferir a humanidade de quem não é ser humano, pelo que os outros animais nem sequer fazem parte do universo da moralidade. A não ser indirectamente: temos deveres indirectos para com os animais na medida em que maltratar um animal implica prejudicar o seu proprietário. No caso de alguém maltratar o seu próprio animal em público, então estará a ferir a susceptibilidade de outras pessoas, que serão obrigadas a assistir a cenas que lhes são desagradáveis. Mas se for o próprio dono de um animal a maltratá-lo longe de olhares alheios? Nesse caso, alega Kant, estará a fazer algo que degrada o seu próprio carácter, pelo que estará a fazer mal a si próprio, o que também não é moralmente aceitável. Assim, Kant conclui que, em geral, é errado maltratar os animais, mas daí não se segue que eles tenham estatuto moral.
A perspectiva tradicional foi posta em causa pelo fundador do utilitarismo, o britânico Jeremy Bentham. O princípio moral fundamental dos utilitaristas é que uma acção é moralmente boa se o bem-estar for superior ao mal-estar daí resultante, de um ponto de vista imparcial. Acresce que para os utilitaristas como Bentham o bem estar (ou felicidade) consiste no prazer e na ausência de sofrimento. Bentham irá, então, argumentar que aquilo que determina se um ser tem estatuto moral não é a racionalidade, mas a senciência: o que importa não é se os animais podem raciocinar ou falar, mas se os animais podem sofrer. O que há de errado em maltratar uma pessoa ou um animal não é ele ser capaz de reflectir sobre isso ou de ser capaz de o verbalizar, mas o facto dessa pessoa ou animal sentirem dor e estarem, por isso, a sofrer -- quer esse sofrimento seja físico ou psicológico. Ora, neste particular, não há qualquer diferença entre os seres humanos e alguns animais não humanos. Assim, alguns animais têm estatuto moral do mesmíssimo modo que os seres humanos o têm e não há qualquer razão para estabelecer diferença entre uns e outros. Qualquer outra diferença seria moralmente arbitrária. Mas, dado que tudo o que conta para a moralidade é a maximização do bem-estar geral, não pode haver direitos invioláveis, pois isso iria colocar limites à maximização do bem-estar. Logo, nem sequer os seres humanos têm direitos deontológicos. Isto parece ter consequências indesejáveis, pois teríamos de considerar como moralmente aceitável matar uma pessoa saudável para lhe retirar os seus órgãos e com eles salvar a vida a meia-dúzia de pessoas que deles necessitassem, o que contribuiria para maximizar o bem-estar geral. Mas isso parece ir contra as nossas mais firmes intuições morais; parece-nos que há direitos que simplesmente não podem ser violados e que há direitos que são moralmente mais importantes do que a maximização do bem-estar geral. O problema agora passa a ser o seguinte: se os seres humanos têm direitos deontológicos, então não se percebe o que impediria os animais de os terem também. Ora, isso é um problema porque implicaria alterar radicalmente o modo como tratamos os animais, contrariando as nossas intuições de que há diferenças de estatuto moral entre seres humanos e animais.
Mas o deontologista americano Tom Regan defende precisamente que não há qualquer diferença de estatuto moral entre uns e outros, defendendo que animais e seres humanos têm direitos invioláveis. Esta foi a terceira perspectiva discutida. Regan afasta-se do deontologismo clássico de Kant porque isso implicaria negar estatuto moral a seres humanos desprovidos das suas faculdades racionais, como é o caso dos deficientes mentais profundos e de idosos que perderam as suas faculdades racionais, entre outros. Ora, se queremos incluir esses casos dentro da esfera de seres dignos de consideração moral, então o critério de atribuição de direitos não pode ser o da racionalidade. Qual é, então, esse critério? Regan responde que é o de ser sujeito de uma vida: ter uma vida com um grau razoável de unidade psicológica. Ser sujeito de uma vida não é apenas viver. Em vez de uma vida à qual se vão acrescentando momentos uns a seguir aos outros sem nada que os ligue, aquele que é sujeito de uma vida consegue ligar esses momentos numa unidade, sendo capaz de ter memórias de momentos passados, expectativas sobre o que se segue, desejos, medos, etc. Ora, isso verifica-se não só nos seres humanos, mas também em alguns animais. Assim, certos direitos, como o direito à vida, à liberdade e à integridade corporal são invioláveis, tanto no caso dos seres humanos como no caso de alguns animais. Deve-se, pois, acabar imediatamente com a criação e abate de aves e mamíferos na indústria alimentar, com as touradas, os circos com animais, os jardins zoológicos, as gaiolas, as corridas de cães, etc. Pedro Galvão considerou esta perspectiva demasiado radical. Seria, de resto, interessante discutir se, de acordo com Regan, as pessoas que padecem da doença de Alzheimer em estado avançado são realmente sujeitos de uma vida e, portanto, se serão dignos de consideração moral.

A última perspectiva foi a defendida pelo próprio conferencista. Trata-se de uma perspectiva utilitarista, mas diferente do utilitarismo clássico, que tem em conta as consequências de cada acto isoladamente. Ao invés, o que conta nesta perspectiva utilitarista são as consequências que resultam da adopção de diferentes códigos morais, isto é, de diferentes sistemas de regras morais. Pedro Galvão pensa que os seres humanos têm direitos deontológicos, mas não os animais. Mas também defende que alguns animais têm estatuto moral, afastando-se assim das três perspectivas anteriores.
Não vou adiantar aqui mais pormenores, que Pedro Galvão sumariou na sua conferência. Em vez disso, fica aqui a sugestão de lerem o que Pedro Galvão vai publicando sobre o assunto. Vale mesmo a pena.